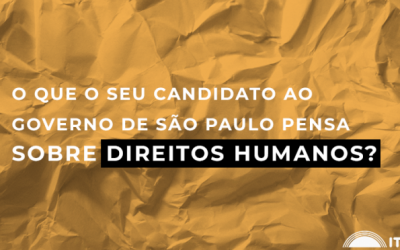Por Mariana Lins, publicado no Brasil Post
“O massacre transformou-se em sério precedente de uma ‘jurisprudência’ que para privatistas não passaria do lucro de escravos”, René Ariel Dotti, dias após o Massacre do Carandiru para o jornal Folha de S.Paulo.
O Massacre do Carandiru é o grande paradigma do colapso da política criminal do encarceramento em massa brasileiro. A mais marcante chacina no interior de uma instituição prisional apresenta-se como síntese da violência institucional do cárcere acompanhada de uma parceria de longa data com a violência policial.
Não bastasse a dor pelas 111 mortes, o Massacre escancarou que, para continuar a seletiva política de segurança pública, atualizações seriam necessárias. Especialmente naquele momento, a manutenção do controle e da gestão da pobreza demandava restaurar sua invisibilidade pública. Silenciar a lógica do Massacre foi colocado a leilão. E a oferta que se destacou foi a mais lucrativa: a privatização de presídios.
No contexto do neoliberalismo, uma vez evidenciada a crise endêmica do cárcere brasileiro, a opção política colocada em debate foi a mercantilização da prisão. O Massacre do Carandiru, grande marco da ineficiência do Estado em administrar o sistema carcerário, foi usado como uma vitrine ao colocar a crise à venda, ofertando a solução à iniciativa privada. Não por acaso, no mesmo 1992, o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP), órgão do Ministério da Justiça, propôs formalmente a adoção das prisões privadas no Brasil.
A propagandeada privatização de presídios tem como principal cartaz a redução dos custos do Estado com os presos, no cenário de superpopulação penitenciária. No entanto, ao contrário do discurso oficial de contenção de gastos, trata-se, em verdade, de um nicho de mercado. O preso é categorizado como produto de um negócio altamente lucrativo, cuja lógica de investimento é simples: quanto mais presos, mais verbas estatais serão repassadas para as empresas. De sua operacionalidade percebe-se a finalidade real: o lucro de empresas privadas a partir da expansão do encarceramento em massa.
Os Estados Unidos, um dos países pioneiros nessa política, têm como resultado o posto de maior encarcerador do mundo, com mais de dois milhões de pessoas presas. Lá, um único complexo penitenciário teve um superávit anual de 50 milhões de dólares. Além disso, a questão racial permanece atrelada umbilicalmente à política criminal. De acordo com a socióloga norte-americana Michelle Alexander, em seu livro The New Jim Crow: Mass Incarceration in the Age of Colorblindness, há mais negros na prisão atualmente do que escravos nos EUA em 1850.
No Brasil, a inserção da iniciativa privada na prisão se concretiza em duas frentes. A mais disseminada, por ora, é a terceirização de serviços prestados no interior do cárcere. Segundo dados do Sistema Integrado de Informações Penitenciárias (InfoPen) de 2014, 58% das unidades prisionais brasileiras contam com algum serviço terceirizado. A alimentação é o principal deles: em mais de metade das unidades (53%) ela é prestada por terceiros. Em segundo lugar aparece o serviço de limpeza, terceirizado em 12% das unidades, seguido da assistência à saúde (8%). Todos serviços visivelmente precarizados.
Nessa linha alternativa de privatização, imprescindível relembrar a tragédia ocorrida em Pedrinhas. No maior centro penitenciário do Maranhão, o Complexo Prisional de Pedrinhas, em 2013 foram assassinados mais de 60 presos. O que pouco se comentou era que Pedrinhas contava com vários serviços terceirizados, entre eles a segurança. Como previsto, a barbárie no sistema prisional é uma grande fonte de lucro. Segundo o jornal O Estado de S. Paulo, “o gasto do governo Roseana Sarney com as duas principais fornecedoras de mão de obra para os presídios do Maranhão chegou a R$ 74 milhões em 2013, um aumento de 136% em relação a 2011”.
A perspectiva de investimento privado cada vez mais solicitada refere-se às privatizações de unidades penitenciárias, operadas por meio de licitações para construção e administração de presídios sob o regime jurídico das parcerias público-privadas (PPPs). O primeiro presídio brasileiro nessa conformação é o Complexo Penitenciário de Ribeirão das Neves, em Minas Gerais. Dessa experiência brasileira, a falácia da economia dos cofres públicos com a privatização cai por terra. Enquanto nas penitenciárias públicas o custo mensal varia de R$ 1.300,00 a R$ 1.700,00 por preso, em Ribeirão das Neves, o repasse estatal é de R$ 2.700,00. Com capacidade para 3.336 pessoas, o Estado se compromete a garantir 90% de lotação mínima. Lucratividade à custa da expansão do encarceramento assegurada.
Nos ditames da atividade empresarial, percebe-se uma movimentação expressiva de capital. O professor Laurindo Dias Minhoto afirma que “o lucro que as empresas auferem com essa onda de privatização não vem tanto do trabalho prisional, ou seja, da exploração da mão de obra cativa, mas vem do fato de que os presos se tornaram uma espécie de consumidores cativos dos produtos vendidos pela indústria da segurança e da indústria de infraestrutura necessária para a construção de complexos penitenciários”.
Em Ribeirão das Neves, já foram gastos 280 milhões de reais na construção do complexo até agora. O consórcio Gestores Prisionais Associados (GPA), responsável pela construção e administração do complexo penitenciário, estima que no total serão gastos 380 milhões.
As PPPs, além de perpetrar a consolidada dinâmica da seletividade penal dos PPPs – os presos, que são majoritariamente pretos, pobres e periféricos –, se valem de mais uma seletividade. Para assegurar o sucesso da experiência e conquistar sua expansão, é elaborada uma seleção de perfis de presos a preencherem as vagas de Ribeirão das Neves. Somente são escolhidos os etiquetados como “menos problemáticos”, aqueles sem vínculos com organizações criminosas e que aceitem se submeter a condições de trabalho extremamente precarizadas. Desse modo, as alegações de que as unidades privatizadas promovem uma queda na reincidência não merece credibilidade, uma vez que a seletividade de quem vai para a unidade regida pela PPP abrange um contingente que provavelmente já não seria reincidente.
Cada vez mais a promessa das privatizações que acompanha a expansão do controle penal ganha adeptos. Além do argumento mercantil da redução de custos já mencionado, alguns setores da sociedade acreditam que a privatização dos presídios seja uma alternativa viável para humanizar o sistema carcerário. A questão que se impõe de imediato: é possível humanizar o cárcere? Evidentemente que a luta por direitos dos presos e presas é necessária, como alimentação digna, fornecimento de itens de higiene, vestimenta, o fim da revista vexatória, entre outras pautas urgentes. Entretanto, é necessário clareza sobre a percepção do cárcere como um massacre em si mesmo. A expectativa de que uma instituição essencialmente violadora de direitos possa promover direitos é enganosa. Nenhum cárcere ressocializa ou reintegra socialmente ninguém. Quando comandado pela lógica lucrativa de enxugar gastos e aumentar rendimentos, é certo que o corte de gastos virá exatamente das verbas destinadas às garantias do preso e que o aumento do lucro buscará ainda mais presos para construir mais unidades prisionais.
Assim, se o Massacre do Carandiru pode ser considerado grande propulsor da discussão pública sobre privatização de presídios no Brasil, ele também deve ser analisado como expoente dos massacres diários nos cárceres, regidos por toda sorte de torturas e violações de direitos. Seguimos aumentando o número de presos e presas e após 23 anos do Massacre, temos mais de 600 mil pessoas aprisionadas, ocupando a 4ª posição nos países que mais encarceram. Para disputar esse cenário, em que “a carne mais barata do mercado é a carne negra”, é fundamental o fortalecimento de alternativas ao encarceramento para que seja possível impedir qualquer forma de lucro com a barbárie prisional e para que possamos caminhar rumo ao fim dos massacres cotidianos.
Mariana Lins de Carli Silva é advogada e pesquisadora do Programa Justiça Sem Muros do Instituto Terra, Trabalho e Cidadania.