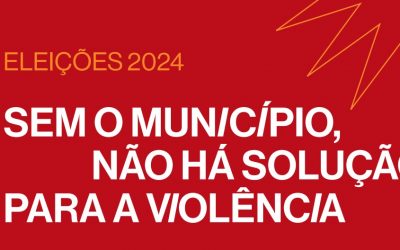Artigo por Jessica Mendes, da Equipe de Comunicação do ITTC
Por trás das estatísticas globais sobre tráfico de pessoas, uma constatação se mantém constante: mulheres e meninas são as principais vítimas. Segundo o Global Report on Trafficking in Persons 2024, da UNODC, 61% das vítimas identificadas em 2022 eram do sexo feminino, e a maioria continua sendo traficada para fins de exploração sexual. Mas o relatório também mostra uma mudança preocupante: cresce o número de mulheres traficadas para o trabalho forçado, sobretudo no trabalho doméstico, para casamentos forçados e, cada vez mais, para o cometimento de crimes, como transporte de drogas ou fraudes.
A criminalização forçada é uma forma de tráfico de pessoas frequentemente invisibilizada, mas que impacta diretamente a vida de muitas mulheres migrantes atendidas pelo Instituto Terra, Trabalho e Cidadania (ITTC). Atuando desde 1997, o ITTC é uma organização da sociedade civil que presta atendimento sociojurídico a mulheres migrantes em conflito com a lei na cidade de São Paulo. O tráfico de pessoas está profundamente conectado à atuação do Instituto, uma vez que muitas das mulheres acompanhadas são vítimas não reconhecidas e criminalizadas.
Muitas delas foram presas enquanto atuavam transportando drogas entre fronteiras, enquadradas no tráfico internacional. Algumas sabiam da finalidade da viagem desde o início. Mas muitas outras foram enganadas, ameaçadas, coagidas ou submetidas a falsas promessas de trabalho. Em todos esses casos, há elementos que configuram o crime de tráfico de pessoas.
Temos como parâmetro o Protocolo de Palermo, documento internacional de referência no tema. Adotado pelas Nações Unidas em 2000, ele é o principal instrumento internacional de enfrentamento ao tráfico de pessoas. Ele define o tráfico como o recrutamento, transporte, transferência, abrigo ou recepção de pessoas por meios como ameaça, uso da força, coação, engano ou abuso de vulnerabilidades, com o objetivo de exploração.
Essa exploração pode incluir trabalho forçado, exploração sexual, servidão, remoção de órgãos, entre outras formas. O Protocolo também estabelece a responsabilidade dos Estados em prevenir o tráfico, punir os responsáveis e proteger as vítimas, reconhecendo que elas não devem ser criminalizadas por atos cometidos como resultado direto de sua condição de pessoas traficadas. O que o ITTC observa, no Brasil, é a ausência de reconhecimento da condição de vítimas de tráfico para mulheres migrantes submetidas à criminalização forçada.
Apesar do Protocolo de Palermo, o sistema penal brasileiro continua a tratar essas mulheres como autoras de crimes, especialmente no contexto do tráfico internacional de drogas.
Esse fenômeno, em que mulheres são coagidas, enganadas ou forçadas a atuar no transporte de substâncias, exemplifica uma das faces do tráfico de pessoas contemporâneo, que vai além da exploração sexual e do trabalho forçado e inclui também a exploração para o cometimento de delitos.
A criminalização dessas mulheres evidencia como o Sistema de Justiça falha ao desconsiderar marcadores como gênero, raça e vulnerabilidade socioeconômica, condenando como autoras de crime aquelas que, na realidade, são vítimas de um processo de exploração.
Sete a cada dez mulheres atendidas se declaram não brancas
Com mais de 25 anos de atuação no atendimento direto a mulheres migrantes em conflito com a lei no Brasil, o ITTC vem acumulando um banco de dados, a partir de aplicação de questionários às mulheres atendidas, e uma escuta qualificada que possibilitam análises sobre as interseções entre tráfico de pessoas, racismo e desigualdades de gênero. Essa experiência evidencia como a seletividade penal opera para punir mulheres migrantes não-brancas em contextos de violação de direitos, reforçando desigualdades históricas e invisibilizando trajetórias de exploração.
O levantamento de dados é realizado por meio da aplicação de questionários durante os atendimentos, no momento de acolhimento das mulheres. Por esse motivo, há variações nas respostas: nem todas as perguntas são respondidas, e as mulheres têm o direito de não responder sem que isso comprometa o atendimento prestado.
No que se refere à autodeclaração racial, há um desafio metodológico importante na sistematização dessas informações entre mulheres migrantes em conflito com a lei, especialmente diante da diversidade de categorias raciais utilizadas em seus países de origem. Ainda que este levantamento tenha se concentrado em mulheres de origem latino-americana e caribenha, regiões que compartilham um passado colonial e escravista, os termos adotados por cada país podem divergir significativamente, o que faz com que as categorias utilizadas pelo IBGE muitas vezes não correspondam às formas como essas mulheres se identificam.
Entre 2015 e 2019, o ITTC aplicou um questionário a 351 mulheres migrantes da América Latina e Caribe. Os dados indicam que 71% delas se autodeclararam não brancas, utilizando termos como morena, parda, trigueña, mulata, preta, indígena, castanha e café.
Apenas 24% se identificaram como brancas ou amarelas. A partir dessa autodeclaração, os dados foram agrupados em dois grandes blocos: negras (pretas e pardas) + indígenas e brancas + amarelas.
Embora os dados sejam exploratórios, eles são consistentes com a realidade do sistema prisional brasileiro, onde o racismo institucional atravessa todas as etapas do processo penal. Segundo dados do segundo semestre de 2024 do Sistema Nacional de Informações Penais (SISDEPEN), 65% da população carcerária brasileira é negra e indígena.
No caso das mulheres, o encarceramento por crimes relacionados à Lei de Drogas afeta majoritariamente as negras e periféricas. Com as mulheres migrantes, especialmente as negras e indígenas, a lógica se repete e se intensifica. Ao comparar os dados, o ITTC observou o seguinte: mulheres negras e indígenas tendem a receber penas mais altas do que mulheres brancas e amarelas, ainda que possuam perfis semelhantes e tenham vivido experiências parecidas.
Isso indica a presença de viés racial no julgamento, em que mulheres negras e indígenas são mais facilmente associadas à figura da criminosa.
Essa análise permite refletir sobre como a política de guerra às drogas opera com marcadores raciais e de nacionalidade, penalizando de forma mais severa pessoas consideradas racialmente e socialmente indesejáveis. Mulheres não brancas, migrantes, pobres e em situação de vulnerabilidade acabam sendo alvos preferenciais das redes internacionais de tráfico, muitas vezes recrutadas para exercer funções de alto risco e baixa remuneração, como a de “mula”*, carregando drogas entre países. Neste artigo, explicamos por que o termo desumaniza as mulheres. Vale dar uma olhada ao finalizar sua leitura.
Ao mesmo tempo, elas são também o alvo preferencial da punição penal. Não são reconhecidas como vítimas de tráfico de pessoas, mas sim rotuladas como criminosas. Isso revela uma profunda contradição na forma como o Estado brasileiro aplica a legislação sobre tráfico de pessoas: a lógica punitivista prevalece sobre a proteção de direitos de pessoas vítimas.
Familiares são usados para coagir mulheres
Em um outro levantamento de dados, entre 2008 e 2019, o ITTC aplicou 1.493 questionários com mulheres migrantes em conflito com a lei. Desses, 106 continham elementos que caracterizam situações de tráfico. Cerca de 41% dessas mulheres relataram ter vivido cárcere privado, 36% disseram ter sido enganadas quanto à natureza da atividade que iriam desempenhar, e 27% sofreram ameaças. Em muitos casos, a coação envolvia familiares, especialmente filhos e filhas, como forma de forçar a continuidade da viagem.
O que esses relatos escancaram é que o tráfico de pessoas, longe de ser um crime isolado, é parte de um sistema mais amplo de exploração e desigualdade, atravessado por gênero, raça, classe e nacionalidade. O processo de migração dessas mulheres é marcado, desde o início, pela vulnerabilidade: são majoritariamente chefes de família, com baixa escolaridade, histórico de violência, dificuldade de inserção no mercado formal e pouca rede de apoio. Quando essas trajetórias cruzam com redes criminosas organizadas, que exploram justamente essas fragilidades, o resultado é a conversão da precariedade em punição.
Embora o tráfico de pessoas para o cometimento de crimes seja uma realidade documentada em relatórios internacionais da ONU e da sociedade civil, a legislação brasileira ainda não reconhece essa finalidade como forma de tráfico. A Lei nº 13.344/2016 restringe o conceito de tráfico às finalidades de exploração sexual, remoção de órgãos, trabalho análogo à escravidão, servidão ou adoção ilegal. Com isso, mulheres aliciadas para o tráfico de drogas, mesmo sob coação ou engano, acabam sendo processadas e condenadas como se fossem parte da engrenagem criminosa, e não suas vítimas.
Essa ausência de previsão legal impede que se aplique, de forma efetiva, o princípio da não punição, já reconhecido por normas internacionais desde 2002, como nas Diretrizes Recomendadas sobre Direitos Humanos e Tráfico de Pessoas, do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos. O princípio afirma que vítimas de tráfico humano não devem ser responsabilizadas por crimes que tenham sido cometidos como consequência direta de sua condição de vítimas.
No entanto, mesmo quando há possibilidade de invocar o artigo 22 do Código Penal, que prevê a exclusão de culpabilidade por coação moral irresistível, a jurisprudência brasileira tem sido restritiva, e magistrados frequentemente não acolhem a alegação.
A consequência disso é que mulheres que deveriam ser protegidas são julgadas, condenadas e encarceradas. A condição de vítima é apagada pelo aparato penal e em vez de proteção, enfrentam estigma, discriminação e abandono institucional.
A experiência migratória de mulheres não pode ser analisada de forma homogênea: o gênero impõe um conjunto de barreiras que são agravadas por outros marcadores, como raça, nacionalidade, idade, classe e maternidade. Muitas das mulheres atendidas pelo ITTC, por exemplo, são mães solo, migrantes latino-americanas, racializadas e sem rede de apoio no Brasil. Essas condições moldam tanto sua vulnerabilidade à exploração quanto sua relação com o sistema de justiça. Além disso, a atuação de pessoas próximas, amigos, conhecidos ou até familiares, no recrutamento e no financiamento da viagem contribui para dificultar a identificação da situação de tráfico.
Não raro, essas mulheres acreditam estar fazendo um favor ou pagando uma dívida, e não sendo traficadas. Os próprios vínculos afetivos são usados como armadilhas para coação, e a criminalização que se segue desconsidera completamente essa complexidade.
É nesse contexto que o enfrentamento ao tráfico de pessoas precisa se articular com a crítica à guerra às drogas, à criminalização da pobreza e ao sistema penal como forma de gestão da mobilidade de mulheres racializadas e migrantes. Não basta ampliar os mecanismos de prevenção ou assistência, é preciso garantir que as vítimas sejam reconhecidas como tal e que tenham o direito de não ser punidas por algo que lhes foi imposto. A justiça não pode continuar criminalizando quem são, de fato, as vítimas do tráfico.
Publicado originalmente em Gênero e Número